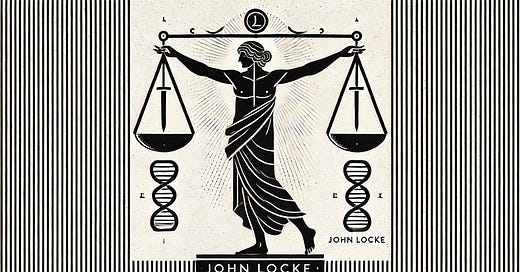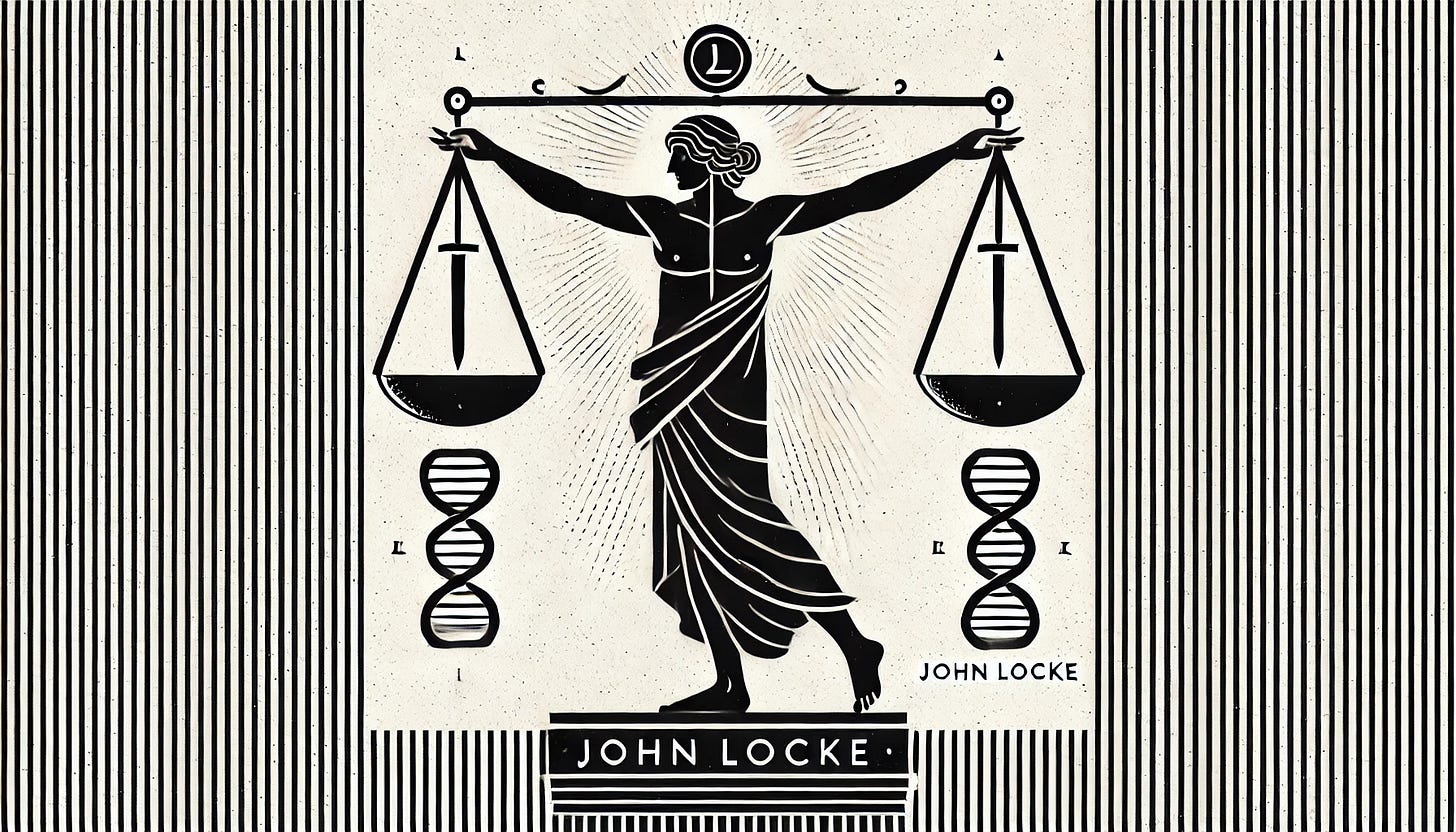JOHN LOCKE: O PAI DO LIBERALISMO?
Na visão de muitos, John Locke é a figura seminal do liberalismo.
O pensador que delineou os princípios fundamentais de uma sociedade baseada na liberdade individual, nos direitos naturais e na propriedade privada. A sua filosofia, frequentemente exaltada como a base das democracias modernas, parece estar envolta numa aura de racionalidade inquestionável e virtude universal. No entanto, um exame mais detalhado das suas ideias revela as influências profundas do protestantismo da época, e, com elas, algumas contradições marcantes.
Para Locke, a propriedade é o ponto de partida da sua filosofia política, começando pelo direito inalienável que cada indivíduo tem sobre o próprio corpo. Este princípio, que ele considerava derivado da lei divina, estendia-se à apropriação dos recursos naturais por meio do trabalho: ao misturar o esforço humano com os bens da terra, o indivíduo conferia legitimidade à propriedade privada.
Os direitos naturais, segundo Locke, são inalienáveis e precedem qualquer instituição política. Incluem o direito à vida, protegido contra qualquer interferência – inclusive a própria. Para Locke, a vida é uma dádiva divina, e a liberdade, embora fundamental, deve ser limitada pelo respeito aos direitos dos outros, especialmente no que toca à propriedade.
Por fim, o contrato social surge como a solução para o dilema do estado de natureza, onde os homens são “livres”, mas vulneráveis à arbitrariedade alheia. A formação de um governo, segundo Locke, é um acto racional e consensual, concebido para proteger os direitos naturais e garantir a ordem.
Um exame mais atento revela que muitas das suas ideias já tinham sido profundamente exploradas pelos escolásticos católicos, particularmente pelos membros das Universidades de Salamanca, Coimbra e Évora. Estes pensadores, séculos antes de Locke, abordaram questões sobre liberdade, propriedade e organização política de maneira sistemática. Ou seja, o liberalismo nasceu na Igreja Católica.
A ideia de que cada indivíduo tem soberania sobre o próprio corpo, central no pensamento de Locke, encontra paralelos claros no trabalho de Francisco de Vitoria. Este escolástico afirmou que todos os homens são naturalmente livres e que ninguém pode ser privado dessa liberdade sem uma causa justa. Nas suas palavras: "O direito natural é aquele que procede da dignidade da natureza humana, pelo qual todo o homem possui um domínio pleno da sua liberdade e da sua pessoa" (Relectio de Indis, 1539). Esta formulação, que enraíza a liberdade individual na dignidade intrínseca do ser humano, já contém o germe da concepção lockeana de que o corpo é propriedade do próprio indivíduo, um fundamento inalienável dos direitos naturais.
Outro pilar central do pensamento de Locke, a noção de que o trabalho legitima a apropriação de bens naturais, também foi claramente antecipado pelos escolásticos. Luis de Molina, ao abordar a justiça económica, argumentava que o esforço humano conferia legitimidade à posse: "Quando o homem, com o suor do seu rosto, cultiva o solo ou transforma recursos em algo útil, a propriedade desses bens é sua por direito" (De IustitiaetIure, 1593). Aqui, Molina não apenas reconhece o trabalho como uma extensão do uso legítimo do corpo, mas também como um mecanismo que transforma recursos comuns em propriedade privada, um princípio que Locke posteriormente sistematizaria como a "mistura do trabalho com os bens naturais".
A noção de contrato social, que Locke popularizou como a solução para os desafios do estado de natureza, também tem profundas raízes escolásticas. Domingo de Soto, nas suas reflexões sobre a lei natural, afirmava que os homens, embora livres e iguais por natureza, necessitavam de pactos mútuos para garantir a convivência pacífica e a justiça; escreveu: "O contrato entre os homens nasce da necessidade de garantir a justiça e proteger os direitos que todos possuem por natureza" (De IustitiaetIure, 1553). Este raciocínio reflecte o mesmo princípio de Locke de que o contrato social é essencial para proteger os direitos naturais e estabelecer uma ordem política legítima.
Francisco de Vitoria foi ainda mais longe, ao afirmar que o governo deriva do consentimento dos governados, e não de uma imposição divina directa. "O poder político é estabelecido pelo consenso dos homens, para assegurar a justiça e o bem comum" (De Potestate Civili, 1528), estabelecendo uma base teórica que Locke ecoaria nas suas defesas do governo como uma instituição criada para preservar os direitos naturais.
Luis de Molina complementava essa visão ao argumentar que o pacto social é uma expressão da racionalidade humana, que reconhece a necessidade de acordos para evitar a arbitrariedade do estado de natureza. Para ele, "sem um acordo entre os homens, os direitos e deveres tornam-se incertos" (De IustitiaetIure, 1593). Esta visão, que coloca a racionalidade e a cooperação humana no centro da organização política, ressoa directamente com o pensamento de Locke, mostrando que o filósofo inglês não estava a inventar conceitos.
Assim, o que muitas vezes é celebrado como a originalidade de Locke deve ser entendido, em grande parte, como uma continuação e adaptação das ideias escolásticas. Os pensadores ibéricos, ao articular a soberania individual, a legitimidade da propriedade pelo trabalho e a necessidade de pactos sociais, estabeleceram os alicerces de uma filosofia política que transcendeu as fronteiras do seu tempo.
Locke, apesar da sua aparente genialidade, fundamentou grande parte do seu pensamento político numa ficção: o estado de natureza. Essa aberração teórica, onde os homens seriam livres, iguais e independentes, ignora a realidade evidente de que os seres humanos vivem em hierarquias naturais desde o início da sua existência – algo inaceitável para os protestantes, que recusavam a autoridade papal. A relação entre pai e filho, general e soldado, ou sábio e aluno ilustra claramente que a liberdade absoluta nunca foi, nem poderia ser, a condição humana. Há sempre relações de autoridade e dependência que moldam a convivência. O próprio Locke, ao tentar escapar ao caos deste estado hipotético, recorreu ao contrato social como uma solução, mas aqui também tropeçou em contradições.
A ideia de Locke de que o Estado existe para proteger os direitos naturais é um princípio perigoso, que abriu caminho para o que hoje conhecemos como o fascismo estatal. Um governo que se apresenta como guardião da vida, da liberdade e da propriedade não tarda a transformar-se no maior violador desses mesmos direitos. A tributação, elemento central de qualquer Estado, é em si mesma uma violação do direito à propriedade.
O Estado não produz riqueza; apenas a extrai, usando sempre a força e a coerção, sob o pretexto de proteger os cidadãos. A liberdade defendida por Locke acaba subjugada a um Leviatã moderno, que, sob a capa de justiça e ordem, se torna o maior predador dos recursos individuais.
Quanto ao contrato social, a maior ironia é que ele nunca existiu de facto. Nenhum cidadão o assinou, nenhum juiz supervisiona a sua aplicação e nenhum mecanismo foi criado para que seja renovado pelas gerações que nascem sob a sua pretensa autoridade. É uma ficção conveniente, usada para legitimar a existência de uma organização parasitária que se impõe aos indivíduos como se fosse um bem universal. Este "contrato" é, na realidade, um instrumento de dominação, uma imposição unilateral que não reflecte a vontade de nenhum indivíduo específico.
O que Locke nos oferece, portanto, não é a liberdade, mas a legitimação de uma estrutura que mascara o controlo e a exploração com o véu de uma suposta protecção dos direitos naturais. A crítica a Locke é, assim, inevitável. Não nos deu as bases para a liberdade individual, mas sim os fundamentos filosóficos para a aceitação de um poder centralizado, disfarçado de protector dos direitos. A sua filosofia é um exemplo claro de como uma “boa teoria”, construída sobre premissas erradas, pode ser usada para justificar um sistema que perpetua desigualdades e violações em nome da ordem e da justiça.
Em conclusão, as ideias de Locke não eram inovadoras, pois já os escolásticos católicos as tinham antecipado com profundidade e rigor. No entanto, as suas inovações – nomeadamente a criação do grande Leviatã para nos proteger, legitimado por um contrato social fictício – são um exemplo perverso da mentalidade protestante. Aqueles que abominavam a autoridade da Igreja e clamavam pela liberdade espiritual pareciam não ter qualquer problema em aceitar a expansão de um Estado totalitário, sob o pretexto de proteger os nossos direitos, que se tornou no maior inimigo da liberdade individual dos tempos modernos.
Luís Gomes
Gestor - Faculdade de Economia de Coimbra - e empresário
https://paginaum.pt/author/luisgomes/